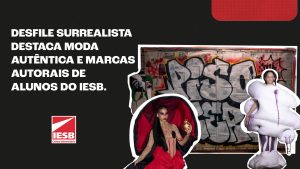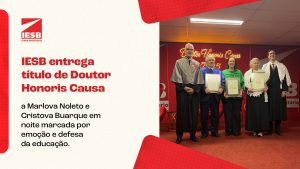Publicado em 9 de janeiro de 2020
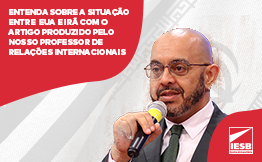
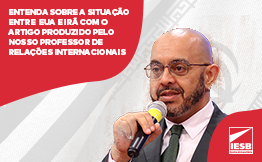
Para conferir o artigo no Portal Nexo, clique aqui
Trump, multilateralismo e a execução de Soleimani
O assassinato extrajudicial do general iraniano é mais um exemplo da ilegalidade e ilegitimidade na ação das grandes potências
“No século 21, o mundo assiste à lenta corrosão dos pilares do multilateralismo e de princípios civilizatórios entre as nações”. Leia no ensaio de Marco Meneses, coordenador do curso de relações internacionais do Centro Universitário IESB.
No fim da última semana, o mundo testemunhou o assassinato extrajudicial de Qasem Soleimani, general e chefe da Guarda Republicana iraniana. Era uma figura importante na hierarquia política e militar do Irã, e teve participação substancial na derrota do Estado Islâmico, costurando apoio às milícias. A justificativa para sua execução foi apresentada pelo presidente Donald Trump e pelo secretário de Estado Mike Pompeu como um meio de impedir um ataque iminente aos interesses estadunidenses na região, além de ser um terrorista que, supostamente, teve que ser executado como perpetrador de vários atentados contra interesses e tropas dos Estados Unidos.
O incidente representou mais um episódio na escalada de tensões entre os Estados Unidos e o Irã, também após vários eventos das últimas semanas no golfo pérsico, culminando, na última semana de 2019, com operações militares conjuntas entre Irã, China e Rússia.
As crescentes tensões entre Washington e Teerã merecem contexto. Desde que o governo Trump decidiu, em 2018, retirar-se unilateralmente do acordo nuclear iraniano, costurado pelo governo Obama e com amplo apoio das grandes potências, iniciou-se novo embate. A despeito da contrariedade dos demais signatários, Washington tem procurado implementar sanções e embargos contra o regime iraniano, trazendo dificuldades crescentes para o Estado e a sociedade iranianos, e exercido pressão sobre aliados para que aderissem ao isolamento do Irã.
Também como pano de fundo, a política externa da administração Trump tem sido problemática para a aliança do Atlântico Norte. Com relação à Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), os EUA têm antagonizado seu relacionamento com seus aliados incondicionais de outrora, cobrando um incremento das contribuições financeiras dos demais Estados-membros para aquela organização. Em certa medida, a perda da relevância dos aliados mais próximos na Otan pode explicar a falta de amplo apoio no que diz respeito às operações em Bagdá na semana passada. A ação recebeu uma resposta contida de aliados como a França, sinais vacilantes dos britânicos, ao passo que Rússia e China recomendaram precaução diante da possibilidade de o conflito alastrar-se.
Em outra frente, a relação com a Rússia se revela mais complexa. As relações de Trump evoluíram do suposto envolvimento de agentes a serviço dos russos nas eleições presidenciais de 2016 — objeto da investigação de dois anos do procurador especial Robert Mueller, que encontrou evidências de obstrução por parte do presidente — para a estranha afinidade pessoal de Trump com o presidente Putin. Em tempo, naquela mesma campanha o então candidato Trump prometeu retirar os Estados Unidos das intermináveis guerras da região.
A retirada que de fato ocorreu foi limitada, a das tropas americanas do norte da Síria em outubro de 2019. O efetivo abandono da milícia curda instilou na região uma significativa perda de credibilidade, estremecendo a confiança nos EUA. Ressalta-se, novamente, o protagonismo iraniano, particularmente atribuído a Soleimani, habilmente construindo alianças na contenção, e eventual derrota, do Estado Islâmico.
Analisemos com mais cuidado as justificativas apresentadas para sua execução então.
A derrubada de Soleimani ocorreu sem a aprovação do Congresso estadunidense, condição constitucional para operações militares no exterior. No entanto, as administrações anteriores também adotaram políticas de maneira semelhante, ignorando efetivamente a supervisão do Congresso. Os presidentes Bush e Obama empregaram esse expediente.
A motivação política procurou eliminar a ameaça real e iminente, conforme reivindicado pelo Departamento de Estado, embora essa ameaça não tenha sido crivelmente determinada até agora. Trump e Pompeu se limitaram a reiterar o bordão que centenas de vidas de estadunidenses teriam sido salvas com a ação. Pompeu foi particularmente evasivo em entrevistas televisivas no domingo posterior ao ataque. Logo, não é possível afirmar a procedência do componente “ameaça iminente” na justificativa da ação, até o presente momento, pois faltam evidências para documentá-la. Por outro lado, de fato, credita-se a Soleimani a participação em diversos atentados que ao longo da última década vitimaram as Forças Armadas dos Estados Unidos. Passemos agora ao componente “terrorista”.
O uso da violência, de maneira ilegítima, para obter objetivos políticos, contra pessoas que possuem propriedades, com fins de instilar o terror, provavelmente compreenderia a essência de qualquer definição razoável de um ato de terrorismo. Vejamos que a ação unilateral do assassinato extrajudicial do general Soleimani em território iraquiano sugere o atendimento dos requisitos acima.
Por evidente, não se questiona que as ações do Irã incorporadas na figura do general Soleimani não se possam enquadrar nas definições sugeridas. É notória a sua agência na região, articulando-se na defesa de interesses iranianos, diante da vasta rede de organizações que o Irã apoia. Não se trata aqui de isentar suas ações, tampouco de dirimir as responsabilidades. De fato, credita-se a ele a participação em diversos atentados que ao longo da última década vitimaram as Forças Armadas dos Estados Unidos. Para os chamados atentados terroristas, costuma haver uma justificativa política, e uma convicção moral, ao menos aos olhos de quem os perpetra.
Em vez de promover um debate discursivo, um choque de narrativas, sobre quem são os verdadeiros terroristas, é preferível criticar tais ações à luz do exposto. Atentados como o sofrido por Soleimani pouco fazem para interromper o ciclo de violência que atormenta o Oriente Médio por décadas.
Da mesma forma, o governo Trump recusou-se a envolver o Conselho de Segurança das Nações Unidas na questão. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, os pilares do multilateralismo que contribuíram para evitar a eclosão, até aqui, de uma terceira guerra, consagram que o uso da força nas relações internacionais é considerado legal e legítimo com a aprovação do CSNU ou em ato de defesa. Sob esse prisma, a ação carece de legalidade e legitimidade. Restam poucas dúvidas de que a operação alvejou o general iraniano para angariar ganhos políticos, em flagrante defesa de restritos interesses estadunidenses na região, e em evidente desacordo com o direito, particularmente o internacional.
Não há componente inédito na ação da administração Trump. A ingerência das grandes potências no Oriente Médio antecede ao mandatário atual em séculos. O domínio do Império Otomano foi sucedido depois da Primeira Guerra Mundial em grande parte da região pelo intervencionismo do semicolonialismo (mal-)disfarçado da Sociedade das Nações, entregando territórios à França e ao Reino Unido no sistema de mandatos. Desde meados do século 20, a ingerência passou a ser exercida pelos Estados Unidos. No limiar do século 21, a desafortunada ocupação do Iraque pela coalizão que apoiou a administração Bush é, também, importante fator na desestabilização regional. O cenário atual remonta substancialmente desastrosa invasão, salvo, talvez, para os interesses estadunidenses implicados.
O assassinato extrajudicial de Soleimani é mais um exemplo da ilegalidade e ilegitimidade na ação das grandes potências, intervindo à vontade em uma região sensível, buscando interesses geopolíticos, estratégicos ou econômicos próprios estreitamente definidos. No século 21, o mundo assiste à lenta corrosão dos pilares do multilateralismo e de princípios civilizatórios entre as nações que duas guerras mundiais deixaram como legado.
Marco Meneses é coordenador do curso de relações internacionais do Centro Universitário IESB (Instituto de Educação Superior de Brasília). Possui graduação em relações internacionais e em ciência política pela Universidade de Brasília e mestrado em relações internacionais pela University of Kent at Canterbury, onde já foi professor assistente. Também já foi professor do Centro Universitário de Brasília, do IBMEC(DF) e do Instituto Euro-Americano.